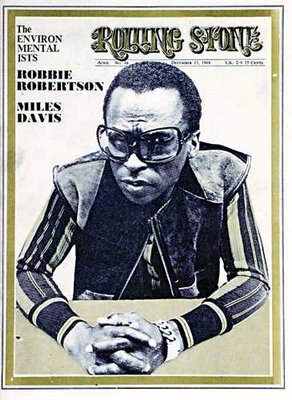Poucas sensações se comparam àquela de ver uma lenda do rock ao vivo. Com Sir Paul McCartney, o choro foi a resposta instantânea, o salgado das lágrimas me lembrando que aquele era um ex-Beatle, mais vivo do que muito artista atual com seus vinte e poucos anos.
Ontem, Sir Eric Clapton não me arrancou lágrimas, mas só porque o blues de sua guitarra era tão envolvente, que não dava espaço para minha emoção se materializar. Mas justiça seja feita, já que o blues não saía só de sua guitarra, mas também dos instrumentos lindamente tocados por sua incrível banda.

A noite era de blues e o setlist foi moldado por suas diversas vertentes. O começo enérgico entusiasmou o público com o blues vivo de canções como “Hoochie Coochie Man”, releitura deliciosa da clássica de Muddy Waters. O ápice veio com a romântica Old Love, quando a banda exacerbou sintonia e talento e quando mais um solo incrível de Clapton foi seguido pelo primeiro solo de orgão. A partir daí, os solos de orgão e teclado tornaram-se tão frequentes e frenéticos quanto os de guitarra.
Sir Clapton, cheio de estilo e naturalidade, era o único guitarrista no palco e parecia estar se divertindo, mesmo que sempre mantendo o profissionalismo às vezes confundido por frieza. Trocou sua famosa Stratocaster azul por seu Martin acústico. Lembrou o Cream com “Badge”e o Derek & The Dominos com algumas, entre elas uma versão acústica lindona de “Layla”. E terminou o show homenageando os dois artistas tão crucias para sua carreira, com “Cocaine” de J.J. Cale e “Crossroads” de Robert Johnson.
O virtuosismo do hoje consumado bluesman e deus da guitarra satsfez o anseio do público então saudoso, deixando de ruim apenas a sensação de quero mais.